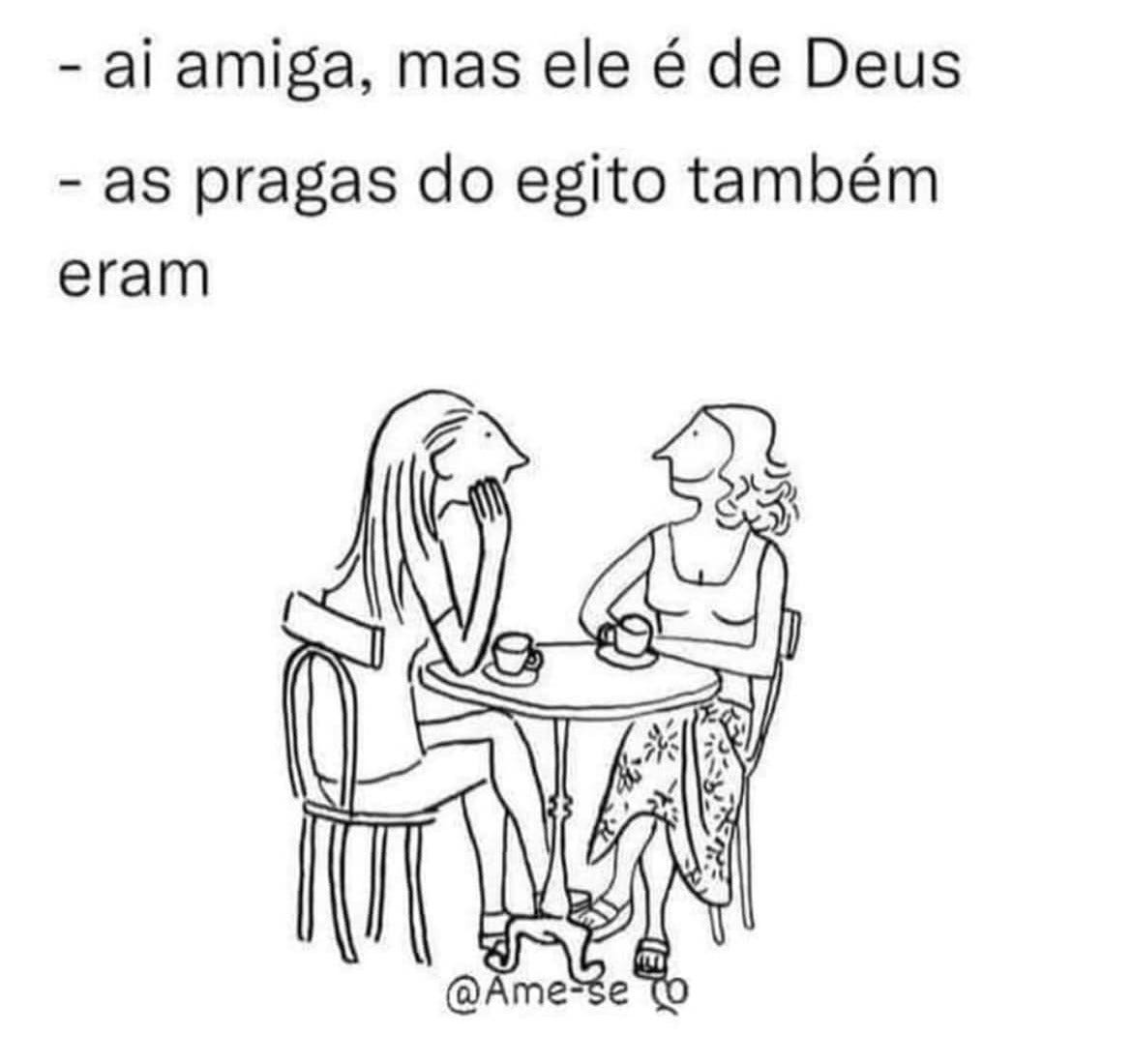Abre-alas#12
A premiação de direção e ator para O agente secreto no Festival de Cannes reforça o bom momento do cinema nacional, prestigiado dentro e fora do país por crítica e público. As láureas concedidas a Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura na Croisette vieram se somar às conquistas obtidas por Ainda estou aqui, de Walter Salles, em Veneza e no Oscar, sem esquecer o Globo de Ouro de atriz para Fernanda Torres. Se um é ficção e o outro baseado em fatos históricos, ambos os filmes convergem tematicamente no compromisso de discutir o período da ditadura militar. Inscrevem-se em longa linhagem do cinema nacional dedicado a essa “página infeliz da nossa história”, como cantou Chico Buarque. Sem nenhuma pretensão totalizante, essa edição da newsletter traça um itinerário comentado da cinematografia brasileira sobre o tema, elegendo alguns recortes para guiar a discussão.
Puxando o fio da memória, prestamos uma homenagem aos 35 anos de Twin Peaks, série cujo experimentalismo revolucionou a ficção televisiva de forma irreversível.
Disparamos também a contagem regressiva para a reinauguração de nossa sede, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Após período de reformas, implantação de melhorias e inovações, estaremos aptos a receber mais e melhor, tanto o público quanto as comunidades artísticas, acadêmicas e seus projetos. Entre as novidades, o destaque fica por conta de um espaço multiuso para eventos e espetáculos, com capacidade de até 100 lugares; além de um bistrô dedicado à boa comida, à convivência e a novos encontros. Durante as próximas edições da newsletter, vamos divulgando os detalhes, datas e programação do que vem por aí.
Com a sede renovada e gana de arte e cultura para todo mundo, todo dia, vamos ver se juntos a gente não chega onde quiser.
Boa leitura!
Alexis Parrott - Editor e redator ✅
Breve inventário da ditadura militar no cinema brasileiro
A importância de recuperar a verdade de uma era que não pôde ser noticiada, cantada, ou narrada em tempo real.
Era o melhor de todos os tempos, era o pior de todos os tempos, era a idade da sabedoria, era a idade do disparate, era a época da fé, era a época da descrença, era a estação da lua, era a estação da treva, era a primavera da esperança, era o inverno do desespero, tínhamos tudo à nossa frente, não tínhamos nada à nossa frente...
A abertura de Um conto de duas cidades foi evocada por Sergio Rezende como epígrafe para Lamarca, seu filme de 1994, sobre a trajetória do capitão do exército que desertou para aderir à luta armada contra a ditadura militar. Tal introdução serve de contraponto à mão pesada com que o diretor conduz a narrativa do filme, destoando igualmente do que parece ser um lugar comum da cinematografia brasileira dedicada à representação daqueles anos de chumbo. A escolha prova que nem todo filme histórico precisa começar com aulinha.
A prosa melódica de Dickens contrasta com o didatismo eleito por grande parte dos filmes dedicados ao tema para contextualizar política e historicamente a época em que se passam suas histórias, já no primeiro fotograma. Do excesso ao laconismo, da verborragia com que Wagner Moura abre Marighella (2019), ao minimalismo seco de Ainda estou aqui (2024), de Walter Salles (Rio de Janeiro – 1970/Durante a ditadura militar), no espectro entre um filme e outro, podemos lembrar de diversas obras que escolheram a típica cartela de texto explicativa em sua abertura: O que é isso, companheiro (Bruno Barreto, 1997); Araguaya, a conspiração do silêncio (Ronaldo Duque, 2004); Quase dois irmãos (Lucia Murat, 2005); e Batismo de sangue (Helvécio Ratton, 2006).
Embora a contextualização pareça sempre um peso, algo do qual os realizadores querem se livrar para se concentrar no drama que propõem contar, há maneiras e maneiras de efetivá-la. A cartela de texto parece ser a mais prática - mas é também a mais simplória. Faz mais sentido apenas a declaração temporal e geográfica, declinando ano e lugar em que o filme começa e obrigando com que a história se conte sozinha a partir daí, como em O ano em que meus pais saíram de férias (Cao Hamburger, 2006).
No irretocável Cabra marcado para morrer (1984), Eduardo Coutinho vai por outra picada - para usar uma expressão própria de seu vocabulário. Após a cena inicial, enigmática, de um pequeno grupo de pessoas atentas à montagem de um projetor de cinema ao ar livre, entram imagens de época, em preto e branco, de uma favela sobre palafitas; meninos descamisados se movimentam à beira do mangue carregados de caranguejos recém catados. A trilha sonora é a Canção do subdesenvolvido, de Carlos Lyra e Chico de Assis, “um clássico do CPC” (Centro Popular de Cultura, o núcleo artístico estudantil criado pela UNE, em 1961), conforme narrado pela voz em off do poeta Ferreira Gullar, contextualizando não a época, mas a condição em que aquelas imagens foram realizadas:
“Abril de 1962. Essas imagens foram filmadas durante a UNE volante, uma caravana da União Nacional dos Estudantes que percorreu o país para promover a discussão da reforma universitária.”
A época se impõe não a partir de uma explicação, mas pela presença viva de cenas documentais do cotidiano de certo estrato social. Ao recusar o clichê daquelas imagens vistas um sem número de vezes, da repressão policial no pós-golpe a manifestações populares no centro do Rio de Janeiro, a conjuntura daquele momento é desvendada aos poucos, de forma orgânica. A locução propõe um diálogo com as imagens, evitando a mera descrição. Sobre uma das cenas recuperadas daquelas filmagens da UNE volante (a movimentação de uma feira livre à frente de tanques de combustível da altura de prédios ostentando a logomarca de Esso e Texaco), a narração do poeta destaca
“A imagem da miséria contrastada com a presença do imperialismo, essa era uma presença típica na cultura daqueles tempos.”
Inicialmente censurado, mas liberado sem cortes em 1983, Pra frente Brasil não se furtou a utilizar a cartela introdutória, mas com outra intenção que não apenas a didático-narrativa. Concebido durante os últimos suspiros de uma ditadura cansada (porém, longe de estar morta) o filme se notabilizou por mostrar realisticamente uma sessão de tortura, algo inédito até então. Diferente de produções de anos mais recentes em que os bois podem ser diretamente nomeados, o filme de Roberto Farias optou por destacar o apoio da elite econômica ao regime e caracterizar torturadores como civis assumindo a linha de frente do combate aos revolucionários e ao comunismo, à revelia de policiais e militares.
Existiam sim grupos organizados de extremistas de direita, mas delegados e generais não eram as baratas tontas que mal sabiam o que acontecia sob suas barbas, como retratado no filme. A fonte principal dos abusos e torturas eram mesmo as forças do Estado. O reconhecimento oficial da responsabilidade do Estado brasileiro por desaparecimentos, mortes e reiterada violação de direitos humanos durante a ditadura veio em 1995, em lei sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso – que pode ser chamado de tudo, menos de esquerdista.
Pra frente Brasil traz como trunfo simbólico o contraste entre a euforia à flor da pele de uma Copa do Mundo e a violência subterrânea da ditadura. A autorização de financiamento com dinheiro público para a produção resultou na exoneração do então presidente da Embrafilme, o futuro ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, apesar dos incontestes acenos de boa vontade à ditadura por parte do filme. A cartela inicial extrapola a mera contextualização histórica e entra na seara do malabarismo retórico para livrar a cara dos militares:
Este filme se passa durante o mês de junho de 1970, num dos momentos mais difíceis da vida brasileira. Nessa época, os índices de crescimento apontavam um desempenho extraordinário no setor econômico. No político, no entanto, o governo empenhava-se na luta contra o extremismo armado. De um lado, a subversão da extrema esquerda, de outro, a repressão clandestina.
Sequestros, mortes, excessos. Momentos de dor e aflição. Hoje, uma página virada na história de um país que não pode perder a perspectiva do futuro.
PRA FRENTE BRASIL é um libelo contra a violência.
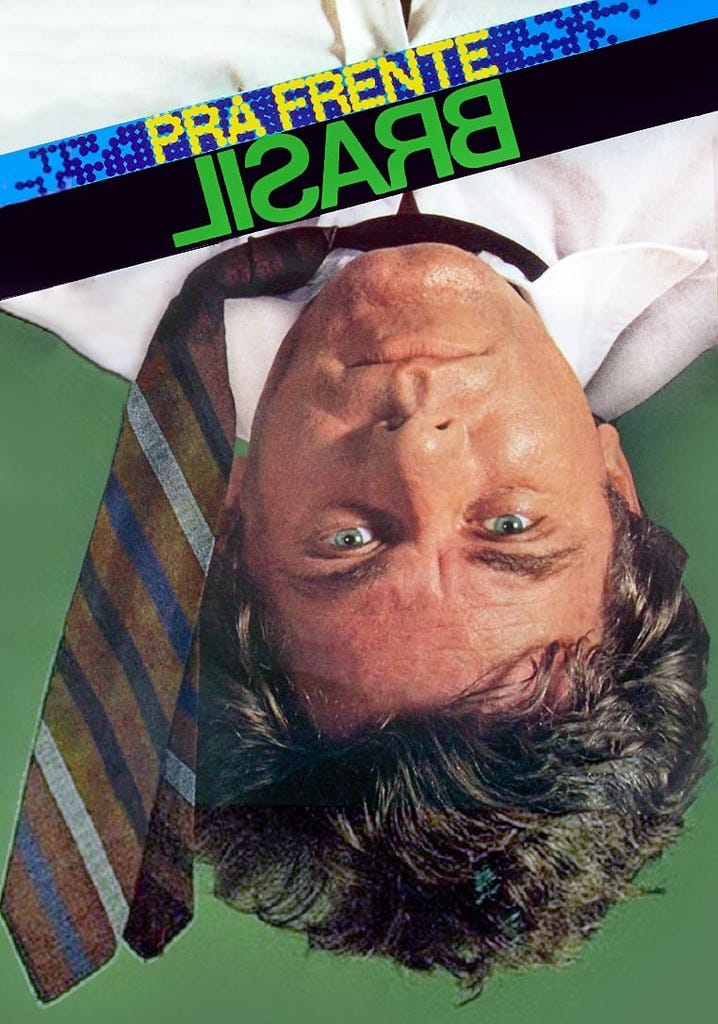
A violência institucionalizada pelo regime é o ponto de partida para que se instale o drama familiar tanto em Pra frente Brasil como em Ainda estou aqui, estabelecendo duas variantes possíveis para a resistência. Enquanto no primeiro filme o até então apolítico irmão de um desaparecido (Antonio Fagundes e Reginaldo Farias, respectivamente) escolhe se engajar na luta armada; no último, baseado em fatos reais, a luta se dá por meio dos caminhos jurídicos tradicionais, até que Eunice (Fernanda Torres) consiga o reconhecimento oficial da morte de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Melo).
Colocados lado a lado, temos um thriller policial e um suspense psicológico. O mesmo contexto sob a perspectiva de diferentes gêneros fílmicos demonstra a riqueza de possibilidades oferecidas pelo cinema político; do filme de ação ao drama mais intimista – no qual a cinematografia de Carlos Reichenbach é imbatível. Alma corsária (1993) e Dois córregos (1999) são duas incursões memoráveis do cineasta no tema da ditadura militar.
A construção narrativa com idas e vindas no tempo usada por Reichenbach em Alma Corsária para retratar a derrota utópica da esquerda ressurge em Trago comigo (2016), de Tata Amaral. Em rico exercício de estilo, Amaral usa o mesmo recurso para afirmar exatamente o contrário, apostando na esperança. De forma semelhante, mas por caminho diferente daquele tomado pelos quatro companheiros de Ação entre amigos (Beto Brant, 1998), o protagonista de Trago comigo irá passar por doloroso processo de autoconhecimento na tentativa de cicatrizar feridas deixadas pela ditadura.
A militância política de Telmo (Carlos Alberto Riccelli, em atuação impecável), hoje diretor teatral consagrado, é recuperada na montagem de um espetáculo baseado em sua juventude, quando da adesão à guerrilha urbana. O flashback acontece na encenação da peça, durante os ensaios e na estreia, usando o método teatral como ferramenta a serviço da linguagem cinematográfica. De forma engenhosa, Amaral amarra a identidade individual à coletiva para declarar o papel chave da memória na compreensão dos processos históricos de um país.
Na distopia Manhã cinzenta, de 1969, Olney São Paulo radicaliza esse embaralhamento cronológico e constrói uma narrativa em que até o futuro pode ser visto, combinando cenas ficcionais com imagens documentais de arquivo. No filme, um grupo de estudantes se rebela contra a ditadura de um país inominado e, após presos e torturados, são condenados em julgamento conduzido por um magistrado robô (profetização da ingerência que a inteligência artificial viria a assumir em nossas vidas?). O cineasta morreria em 1978, aos 42 anos, devido a sequelas deixadas por sessões de tortura quando esteve preso sob falsas acusações dos militares.
Chamado de “martyr do cinema brasileiro” por Glauber Rocha, Olney São Paulo experimenta em Manhã cinzenta como se fosse um Costa-Gavras filmando sob forte influência godardiana. Na introdução do filme não há cartela, nem data, nem lugar. Os créditos de abertura se revezam sobre imagens documentais do Rio de Janeiro de então, ao som da Missa Crioula, do argentino Ariel Ramírez. Alegórico, Manhã cinzenta é um filme sobre aquele momento, mas também sobre qualquer momento em que um regime autoritário é instaurado.
Como provam a depredação da Praça dos Três Poderes em 08 de janeiro de 2023 e a descoberta do planejamento golpista que tornou réus Bolsonaro, Braga Netto et caterva, estivemos à beira de que 1964 se repetisse. Fiéis à vocação natural do cinema para o questionamento e a reflexão, os filmes citados ao longo deste artigo, e outros tantos, reencenam a história para documentar a verdade de uma era que não pôde ser noticiada, cantada, ou narrada em tempo real.
Assumindo majoritariamente o ponto de vista de vítimas e revolucionários, a filmografia brasileira dedicada a retratar a ditadura militar se entrincheira no front certo de uma luta que não termina nunca, pelo visto. Há filmes melhores e piores; mais inspirados ou mais didáticos; mais metafóricos ou mais realistas; de ficção ou documentários. Em conjunto, alinhavam um manifesto único que aspira a alguma justiça - nem que seja poética ou tardia. (AP)✅
Para conferir:
Manhã cinzenta (1969, 18’), de Olney São Paulo: assista ao filme na íntegra
Trago comigo (2016, 2h 30’), de Tata Amaral: assista ao filme na íntegra
Enquanto isso… em Paris
O presidente Lula teve a estatura política reconhecida em várias ocasiões durante a recente visita oficial à França. Da Universidade Paris 8 recebeu o título de Doutor Honoris Causa e, na quase quatrocentona Academia Francesa, foi o segundo brasileiro homenageado (o primeiro havia sido D. Pedro II, em 1872). Tornou-se ainda cidadão de honra da capital francesa, em cerimônia marcada por discurso emocionado da prefeita Anne Hidalgo, com direito até a um “Lula, Paris vous aime”. Ao recebê-lo com um jantar de Estado no Eliseu, o Presidente Macron afirmou que “o Brasil está de volta”.
Para quem considera as viagens de Lula mero “turismo” e gasto injustificado de dinheiro público, resta questionar se conhecem algum “turista” tão respeitado pela comunidade internacional que, de lambuja, ainda traz na bagagem o compromisso de 100 bilhões de reais em investimentos estrangeiros no país. A essas vozes da ignorância, a única resposta possível é o famoso désolé. (AP)✅
Crítica - Série
35 anos depois, as mitologias de Twin Peaks
Nada causa mais impacto que um fantasma.
Criada a quatro mãos pelo cineasta David Lynch (1946-2025) e pelo roteirista de TV Marc Frost (da também revolucionária Hill Street Blues, rebatizada no Brasil de Chumbo Grosso), Twin Peaks faz parte da cultura pop dos anos 1990 e ícone do imaginário de um mundo pré-internet. Durante vários meses, perdemos noites de sono tentando visionar quem teria sido o assassino de Laura Palmer (Sheryl Lee), encontrada enrolada em plástico à beira do rio em uma cidadezinha fria do estado de Washington, fronteiriça com o Canadá.
David Lynch queria que nunca se descobrisse a identidade do assassino; que o mistério durasse eternamente. (Mais ou menos como Patti Smith fala sobre 2666, romance do chileno Roberto Bolaño, na segunda parte de suas memórias, Linha M: um livro que ele poderia continuar a escrever para sempre. Infelizmente, como sabemos, não foi o que houve nem em um caso, nem no outro.)
Logo no início da segunda temporada, por pressão dos executivos da emissora de TV, o assassinato foi elucidado e, por isso, Lynch afastou-se da produção (voltou apenas para dirigir o último episódio). O segundo ano da série foi uma decepção; perdeu o sentido de existir após a revelação do nome do assassino.
Nada causa mais impacto que um fantasma. Sem ter a chance de se defender ou se justificar (porque Laura Palmer não é Brás Cubas), sua existência passa a ser reconstruída a partir das investigações do agente do FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan). Ela surge para nós aos poucos, completamente remontada como se fosse um quebra-cabeças com peças recolhidas das maneiras mais diversas: por meio de depoimentos, de uma página de diário, de uma fita de vídeo, de um sonho. Quem surge após essa montagem nunca poderia ser aquela que acreditávamos conhecer. Esse desvelar paulatino era o grande trunfo de Twin Peaks.
Através da escuridão do passado futuro
O mago espera enxergar.
Alguém recita entre dois mundos:
- Fogo, caminhe comigo.
O tempo é a chave para se começar a entender a intrincada rede de pistas que tecem a narrativa da série, presente nesses versos, declamados por Mike, o homem de um braço só (Al Strobel), já na primeira temporada. Para que algo comece a fazer sentido, é fundamental que todo o conjunto do universo twinpeakeano seja levado em conta: as duas temporadas originais da série, a retomada tardia lançada em 2017 e, principalmente, o filme de 1992, Fire walk with me - que no Brasil ganhou o título bobo de Os Últimos Dias de Laura Palmer.
Pensando em retrocesso, a trama principal nunca foi o assassinato de Laura Palmer, muito menos a investigação criminal. Twin Peaks vê o mal como uma entidade de existência independente. É uma fábula contemporânea que discorre sobre como a maldade, em estado puro, pode se apoderar de nossas vidas. Uma força à qual ou sucumbimos ou nos rebelamos.
É lícito que, ao criar uma nova mitologia, bebamos de lendas antigas. Por isso um agente Cooper revivido irá aterrissar no condomínio Lancelot Court; e a esposa (Naomi Watts) que recebeu ao assumir nova identidade vai ao encontro de credores na esquina das ruas Merlin com Guinevere - tudo acontecendo em Las Vegas, nova Camelot e espécie de Eldorado para todo tipo de sonhador.
Na teia mitológica criada pela dupla de autores nada é aleatório - seguindo o princípio de expansão da consciência, pilar da meditação transcendental da qual Lynch foi adepto por quase 40 anos. Tudo é relativo e essencial na mesma medida. Não existem peças que não encaixam no quebra-cabeças maior, meticulosamente arquitetado; há sim peças ainda por descobrir, apesar de já estarem todas à vista.
O salto no escuro empreendido pela série revolucionou a maneira com que estávamos acostumados a ver uma história ser contada. Nenhuma outra experiência televisiva arriscou ir tão fundo na ambientação onírica ou na manipulação narrativa do tempo. Twin Peaks é prequel, sequel e spin-off de si mesma.
A pergunta, sobre o tempo já passado e o porvir com que Cooper encerra a terceira e última temporada não poderia ser mais coerente com o espírito de toda a obra. Ele finalmente entende que é o tempo o verdadeiro condutor da vida, além do mecanismo principal de funcionamento da memória. Onde e porque não fazem tanta diferença, assim como qualquer resposta que ele venha a obter. Não serão as respostas que o levarão a algum lugar seguro, mas sim perguntar.
Em Twin Peaks, como na vida, o que mais importa são as perguntas. (AP)✅
Para conferir:
Rápidas e rasteiras
Por mais que o sucesso do esquete cômico Marisa maiô levante uma série de questões sobre o avanço e aplicações da inteligência artificial, nada esconde o fato de que se o troço não fosse engraçado, não viralizava. E a graça não está no robô, está no texto e na descarada humanidade com que a televisão é satirizada. Se fosse só a IA, não seria Marisa maiô; seria mais um daqueles vídeos sem alma com que Luciano Huck homenageia artistas em seu programa. (AP)✅
Apesar da bem-vinda discussão ética proposta por Vale-tudo e o clima de luta de classes da trama, pelo menos em um aspecto ricos e pobres se igualam na novela. No café da manhã, almoço e jantar, todo mundo está sempre comendo a mesma salada de fruta. (AP)✅